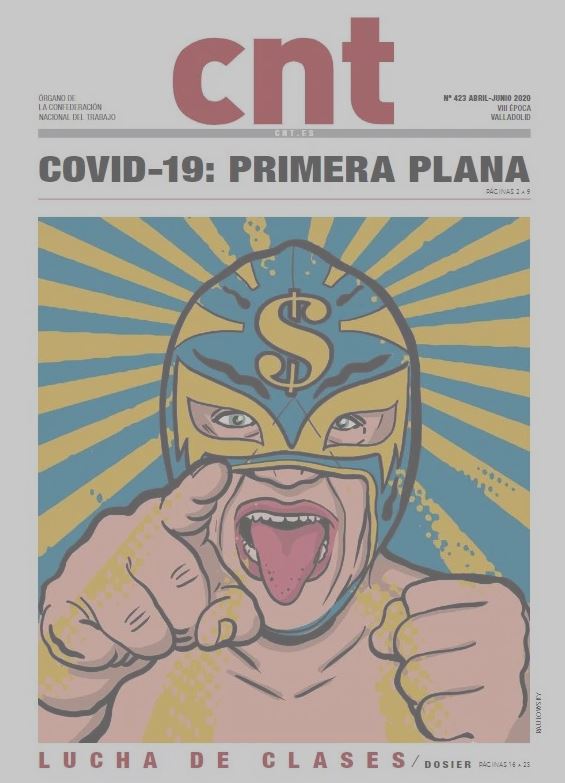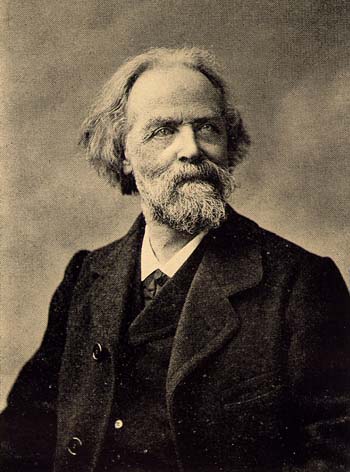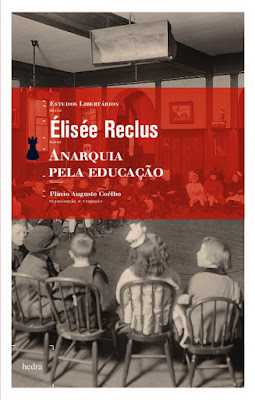Luiz Alberto Sanz

Já não posso ser o primeiro a saudar Yemanjá, pois é de tarde e, neste 2021 não houve participação de fiéis e curiosos nem festejos nas areias do Rio Vermelho. Mas tentei, à vera, ser o primeiro há 52 anos. Só que não dava. Eram muitos primeiros. Uma multidão cobria o Rio Vermelho. Cada vez que vou no bairro sinto uma grande emoção, apesar de todas as modificações por lá acontecidas.
Para lembrar, envio aos amigos a reportagem que publiquei no Suplemento Cultural do Jornal do Commercio. Fiquei todo bobo quando o mestre Edison Carneiro, em visita à redação, me cumprimentou e incentivou a continuar nessa linha de pesquisa. Não ouvi o mestre e fiquei vagando entre objetos de atenção, mais um especialista em generalidades, como um dia formulou Décio Pignatari.
Axé (Pura Energia)!
[i] Esta introdução foi publicada em 6 de Março de 2007, portanto, há mais de 42 anos da publicação da reportagem que apresenta. Fiz pequenos remendos para esta nova edição, em https://mosaicomourisco.blog e na Rede Sina, trocando a referência de afastamento temporal de 42 para 56 anos e acrescentado comentários sobre 2021 e sobre as razões da minha estada na Bahia..
Salve Mãe Yemanjá, Janaina!
Orixá maior do fundo do Mar
Texto e fotos de Luiz Alberto
Jornal do Commercio – Suplemento Dominical – Rio de Janeiro – domingo, 21 de fevereiro de 1965
TERÇA-FEIRA, 2 de fevereiro de 1965. Rio Vermelho já amanhece movimentado. Cedo se ouvem os atabaques, mas pelo fim da tarde será quase impossível caminhar entre as barracas. O calor, me dizem, é o maior já feito em Salvador. Nada de igual, mas milhares de pessoas suportarão o vento e o sol abrasante para render homenagem ao mais forte Orixá dos mares, ainda mais por sua poderosa identificação com Nanã, mãe de todos os orixás; e Oxum, rainha das fontes e dos rios. Yemanjá tem sua festa maior, a maior do Brasil.
Vinte saveiros levarão os presentes e os devotos. Cortarão as ondas e os gritos de Salve Dona Oxum, Salve Janaína, Salve Rainha do Mar, marcarão todo o percurso até o Mar Grande, onde fica a sua «loca». O misto dos ritos Nagô, Jêje, Caboclo, Angola e Congo torna a festa mais bonita e estranha. A Bahia vibra, quase parada na mística que arrasta grande parte de sua população, praticamente de negros e mestiços, os tradicionalmente explorados.
Recusa
Se o seu presente surgir na praia, Yemanjá o recusou. Se você tem dívidas com ela, manterá a obrigação. Se foi um pedido, não será satisfeito. A oferenda deve ser lançada em alto mar, levada em saveiros ou jangadas, entre cantos Nagô (mais comuns), Angola, Congo, ou Jêje.
Todos os tipos de pedido são feitos enquanto as oferendas tocam direto na vaidade da deusa: perfumes caros, flores belíssimas, joias de ouro, pentes de prata, relógios, espelhos, pó-de-arroz, sabonetes, laços de fita acompanhados de pequenos bilhetes. O que mais se quer é saúde e a volta do amado. Todos esperam que a «Mãe» o faça.
A casa
No Rio Vermelho, pela hora da festa, não se encontra lugar para ficar, a «Casinha» já não mais suporta os presentes. São colocados ao seu redor. Ainda é imensa a fila. Do mais pobre ao mais rico, homens e mulheres de branco trazem sua fé e sua esperança.
Pela manhã começa o movimento, baseado no horário da natureza. Com o Sol, temos o dia da festa. O povo se desloca de todas as partes para Itapuã, Amoreira e Rio Vermelho. As barracas já estão montadas para a venda de comidas baianas e bebidas. Em Rio Vermelho restará uma semana, até o domingo de Senhora Sant’Anna, primeiro depois de Dona Janaína.
A casa, minúscula, com a mesa para as oferendas e o retrato da Mãe, fica exatamente ao lado de imensa igreja em construção. A «Casinha» de Yemanjá é ainda menor pela proximidade da obra nada simples dos católicos. Para estes, a festa é interior e não em 2 de fevereiro (Purificação e Senhor dos Passos). Para os milhares de devotos de Janaína, a festa é pública, sob o céu de Olorum.
A Deusa

Inaê, Janaína, Dona Janaína, Marabô, Dona Maria, Princesa ou Rainha do Mar, Princesas do Aruka ou Aiuká, Sereia, Sereia do Mar, Sereia Mucunã, Dandalunda e Kaiala estão entre os nomes da mais festejada das deusas. Seu reino é o fundo do Mar, onde é o mais poderoso dos orixás. A deusa divide sua festa com Nanã e Oxum, que vêm a se confundir em seus traços.
A tradição nagô divide a semana por seus deuses. Oxum e Yemanjá são donas do sábado, dia possuidor da água do mar e da água doce. Os outros dias estão entregues a Exu e Omólu (segunda-feira) para que a semana seja feliz e cheia de saúde; e Nanã e Oxunmarê (terça) pela chuva e o arco-íris, a Xangô e Iansã (quarta) pelos raios e os ventos, a Oxóssi e Ogum (quinta) pela caça e artes manuais. Oxalá é dono da sexta-feira, influência católica, com o culto do Senhor do Bonfim. Todos os deuses têm dedicado o domingo.
Datas
Oculto normal, a 2 de fevereiro, é de Oxum, sendo Yemanjá a 8 de dezembro e Nanã a 26 de julho. No entanto, Salvador as identifica e dedica a data da deusa das fontes e dos regatos à Senhora do Mar.
Yemanjá tem setenta e duas nações, variando suas cores e seu culto. A festa de 2 de fevereiro é caracterizada pelo branco, cada «cavalo», «filha de santo» ou «vôdunsi» (caboclo, nagô ou jêje) trazendo colares com as cores de seus santos. Yemanjá propriamente tem a base no azul e no vermelho, e seu culto é mais realizado em público que dentro do Candomblé.
Origem
Cada nação africana tinha sua religião particular, mas diversos fatores, como o tráfico externo e interno de escravos, serviram para promover uma unificação do culto, pelo menos em seus pontos essenciais. Os primeiros negros trazidos vinham da Costa da Malagueta (desde o Senegal a Serra Leoa), das tribos Fula e Mandinga, alcançadas pela expansão do Islã, sem serem de todo islamizadas. Foram levadas para as áreas dos canaviais. Quando da colonização amazônica, foram ainda os elementos da Guiné os escravizados. Desde os primeiros dias do século XVII, segundo Edison Carneiro, Angola foi a maior praça de escravos do Brasil. Pouco depois da ocupação pelos portugueses, os holandeses foram desalojá-los, passando a trazer escravos para a Nova Holanda. Os portugueses, em seguida, reconquistaram o litoral angolense, que ia até a embocadura do Congo. Edison Carneiro mostra que de Angola e Congo vieram para o Brasil negros de língua banto e de Moçambique, muito pouco pelos custos, pequenos contingentes de macuas e anjicos. Foram trazidos ainda muitos, por muito tempo, da Costa da Mina, absorvidos pela Bahia e transportados para as Minas Gerais, ao trabalho de mineração.
Cadinho
A guerra contra os holandeses, a mudança do interesse econômico do açúcar para ouro, do ouro para o café, transformou o país em um cadinho de raças. Com o fim da época do ouro, os negros foram dispersos, restando alguns na Bahia, outros seguindo para Pernambuco e Maranhão, e muitos sendo vendidos para o Sul. Mais negros eram trazidos da África e cruzavam com crioulos (negros nascidos no Brasil). O intercâmbio linguístico, sexual e religioso entre escravos e ex-escravos foi assim favorecido, e mesmo provocado, pelo tráfico negreiro, que, diz Edison Carneiro, «deu o retoque final à concentração de negros nagôs na Bahia, em fins do século XVIII, quando os mineradores, desinteressados da minas, já não precisavam dos negros procedentes da Costa da Mina, nem se dispunham a pagar os altos preços que os traficantes por eles pediam».
Quase todas as nações vizinhas professavam religiões semelhantes às dos nagôs, enquanto as divindades jêjes e seu culto eram praticamente «nacionais». Os nagôs gozavam de prestígio pelo seu avanço cultural e passaram a constituir uma elite que veio a impor sua religião à massa escrava desordenada que não podia entender o catolicismo que lhe procuravam impor sem ter ligação alguma com seus costumes primitivos.
Edison Carneiro lembra que os malês (mulçumanos), que poderiam dividir e concorrer com os nagôs, afastavam de si a escravaria, em manifestação sectária.
A Festa
Os «candomblés», em geral, não podem ser fotografados, mas no ato público permitem o registro. Pessoas de todas as classes, crentes ou profanas, mesclam-se na apreciação. As «mães de santo», desde a manhã, cantam pontos e dançam no «barracão», ao lado da «casinha». É um caramanchão coberto de palma onde se reúnem as «filhas e mães de santo», ao som do atabaques sob a orientação de um «pai de santo». Em torno, todas as barracas da festa estão cercadas de palma. Dentro do barracão já penetram estranhos, mas a profanação não atinge os devotos. Parece que é uma festa de todos. O interior da «casinha», proíbem-nos de fotografá-lo. Lá está o retrato da «Mãe-d’água».
A fila cresce, os saveiros já começam a tocar a praia, vêm receber os presentes. Muitas pessoas já estão sob a ação do álcool. As mulheres esperam ansiosas por seguirem para o mar. Na praia e nas calçadas, milhares de pessoas comprimem-se alheias às misérias e aos sofrimentos. A mística primitiva lhes traz a esperança. Tudo melhorará, creem, pela graça da Rainha do Mar. Os presentes serão lançados, os cânticos, em português, nagô e jêje durarão longo tempo, fora e sobre o mar.
A partida
A maré sobe. Da «casinha» saem os pescadores, marinheiros, suas mulheres e mulheres do povo carregando as oferendas. Um mar de flores contorna a murada e desce pelas escadas em direção à areia; os pontos acompanham, cantados por quase todos. Os saveiros esperam homens e mulheres que penetram até a cintura pelas águas e formam um cordão que entregará à tripulação os presentes. As faces trazem uma luz diferente, refletem um culto de raízes mais velhas do que podem lembrar. Dos outros barcos são lançados foguetes.
Ao meu lado, uma jovem senhora de cor[i] grita inteiramente tomada de esperança. Pede a um colega de saveiro que escreva um bilhete em seu nome para a Mãe D’Água. Pede a volta do marido: «Ele tem que voltar, tem que voltar», diz. Olha para mim: «Molhe a cabeça e faça o pedido». Minha companheira[ii] e eu esticamos o braço e molhamos os cabelos. Ela quer molhar a minha cabeça, mas a mulher intervém: «Que seja ele mesmo». Vejo sua fé e o faço.
Voltando à praia, a festa continuará por toda à noite e até o fim da semana.
A Volta
Os saveiros vêm deixar os que continuarão em Rio Vermelho. O barco «Pilôto», portador dos presentes principais, segue para a Barra. Os pescadores recolhem suas jangadas e saveiros. O nosso barco passa por uma catraia onde vão um homem e um garoto. O mar encrespa-se. O timoneiro oferece reboque, prepara acorda. O homem recusa e persiste no remo. Chegará, por mais tempo que leve, mesmo que seja noite, mas não irá areboque. Seguiu os saveiros na leva do presente sem reboque, na volta não irá aceitá-lo. Prosseguimos e arribamos. Já escurece. Tempo para um banho e voltar à festa.
Saltamos do barco para aágua. A roupa de banho nos facilita, mas o barqueiro carrega no colo os que estão de terno, como Gumercindo Doria e Rangel, o repórter de Salvador. Em todo o caso, a fatiota não ficará impune, pois são depositados em plena água. Calças molhadas, em todo o caso, não preocuparão com o calor enorme.
À noite
Capoeiras formam grupos nas esquinas. Os «berimbaus» tocam os ritmos mais diversos. Dançam, ágeis, enquanto «sambas de roda» são cantados junto às barracas ou pelas esquinas. Saem brigas, provocadas pelo álcool e pela moral. Todos passeiam, parando de quando em quando para comer um acarajé, ou jantar, desde angu até um magnífico sarapatel.
O samba prossegue: «Sai, sai, sai, ô Piau, das águas da lagoa»…
Mais embaixo, um show promovido por uma estação de rádio divulga músicas de carnaval dando mais e mais uma composição confusa de feira, onde os boleros que as vitrolas de algumas barracas tocam formam com os berimbaus, os violões de seresta, as palmas de sambas e as esquisitas músicas carnavalescas, uma feira de sons. O primeiro dia de festa está quase no fim. Os outros dias serão parcos e miseráveis, nenhuma manifestação maior, só as barracas armadas.
[i] Mantenho a forma usual naquele tempo, embora, hoje a considere racista e depreciativa. Mas, o registro histórico impõe a constatação de que, mesmo não sendo racista, eu e outros como eu, utilizávamos palavras com tonalidade afetiva contrária ao que eu queria dizer.
[ii] Essa companheira, a poeta e secundarista Jussara de Moraes, filha do sociólogo Walfrido de Moraes (autor de Jagunços e Heróis), foi uma das razões principais de minha estada na Bahia, gozando as férias. Eu estava apaixonado por ela, mas ela não estava por mim. Não deu certo. Paralelamente, recebera de Norberto Macdonald (codinome de um companheiro baiano do CC do PCB que estava clandestino no Rio) o encargo de contactar políticos e intelectuais seus conterrâneos para o projeto de editar um semanário nacional, com sede no Rio, que seria dirigido por Mario Pedrosa. Não deu certo, também.